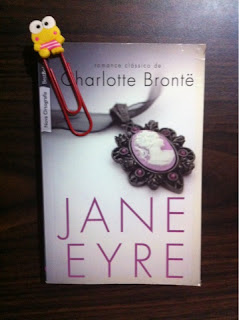|
|
Esse é o caderno bonito e surpreendentemente
barato que comprei para usar de diário. E o preto
é o caderno de brinde que eu ganhei faz anos
que estou usando realmente por pena de usar
o novo, porque sou dessas.
|
Estou de férias. O que você faz quando está de férias? Produz algo? Porque eu não, eu não faço é nada – ou quase nada. Para provar que eu sou capaz de passar um mês sem entrar em estado vegetativo (porque jogar Candy Crush no Facebook não conta), eu comprei um caderno. É, isso mesmo, comprei um caderno. Pra fazer de diário de novo, bem quarta série style. E daí é que vem parte da justificativa do título da vez. Quem se apavora e se preocupa com o futuro dos livros e da escrita cursiva em face do avanço da tecnologia (eu nem citei nada, mas aposto que você lembrou de alguma coisa) muito provavelmente nunca escreveu um diário na vida depois que saiu da preescola. Hoje em dia qualquer um pode abrir um blog, manter uma pastinha no computador, ou baixar um aplicativo no celular¹, mas você já comparou isso com escrever num papel? Mesmo com toda a paranóia de que alguém pode só abrir o caderno e ler a sua alma a qualquer momento, escrever à mão de madrugada ainda é mais reconfortante do que trancar tudo num aplicativinho do qual só você sabe a senha. Talvez aquela velha máxima de que quem escrever quer ser lido tenha alguma veracidade amarga, no fim das contas…
Metade dessas páginas aí estão ocupadas com todas as minhas previsões falhas do primeiro livro que andei lendo nas férias: Jane Eyre. Fucking Jane Eyre.
Hora da resenha!
Como diz Heloísa Seixas no prefácio da minha ediçãozinha, esse livro foi feito por alguém que tinha muito tempo livre nas mãos. Publicado em 1847 por Charlotte Brontë, a irmã Brontë com o nome mais fácil de gravar e por isso a que eu jurava que era a de Morro dos Ventos Uivantes, Jane Eyre nos conta a história comovente e muitas vezes medonha e frustrante e confusa da jovem órfã que você nunca ia adivinhar: se chama Jane Eyre!! Conhecemos Jane ainda criança, e a partir daí acompanhamos a sua situação de estranha não bem vista na casa dos únicos parentes ricos que lhe restam e a sua ida, por fim, a uma escola de caridade de órfãs onde sua vida melhora mas não muito, porque algumas pessoas nasceram para penar na vida. Jovem adulta, vamos com ela para a grande e rica residência chamada Thornfield, (“porque os ingleses tem mania de nomear as propriedades?”, se perguntou um dia a garota que mora num prédio com nome. Cercado de prédios com nomes. E que conhece fazendas com nomes.) , onde Jane, em busca de uma vida melhor, embora não tanto no sentido convencional do termo, vai ser a preceptora (professora de rico) de uma garotinha chamada Adéle, a protegida do antipático Mr. Rochester. E aqui se foi metade do livro e nem um quarto de história.
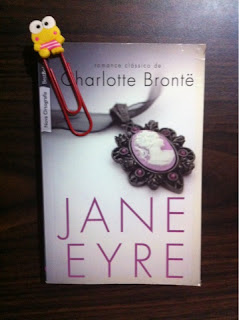 |
|
Minha ediçãozinha e meu marcador do Keropi
paraguaio que amassa as páginas. |
E é muita coisa e muita história – quantas vezes eu, como leitora, posso apontar os pontos do livro em que parei e pensei “ei, eu to lendo a história da mesma Jane?”? “Isso não era uma história de romance?”, “Porque estou esperando uma vingança?”, e nas minhas partes favoritas, “OXENTE TO ASSISTINDO SUPERNATURAL?”! E olha que eu nem assisto Supernatural. Mais do que uma personagem ou narradora que nos apresenta o mundo, Jane é uma criaturinha vasta. Emil-ops, Charlotte criou em Jane alguém que muda e continua constante ao mesmo tempo, coisa possível somente aos seres humanos. Muitas vezes eu quis bater em Jane e chamá-la de antifeminista, mas aí 1847 me bateria em troca chamando Jane de feminista. Ela é feiosa, numa época em que pelo visto as personalidades das pessoas estavam estampadas nos traços de seus rostos, e insossa, do tipo que nunca seria imaginada como protagonista de nada por alguém que não tem acesso à sua cabeça. Jane se envolve num romance adorável (quer dizer…) com o também feioso, mas enérgico e carismático, Mr. Rochester. Eu, em 2013, por conta de certas reviravoltas da trama ainda não sei se desisti da idéia de jogar uma cadeira ficcional na cara do Rochester, mas 1847… Provavelmente está confuso quando a isso também. Deve ser admitido que é difícil querer julgar alguém depois que você pensa “E se fosse comigo?” e descobre que suas atitudes não seriam muito diferentes, se não piores.
E minha condição de estudante de Letras, o que tem a dizer sobre Jane Eyre? Hahaha, que nunca que eu vou me meter em tentar falar sob pespectiva acadêmica de um clássico da literatura inglesa que todo mundo já falou e provavelmente escreveu, tire os cavalos da chuva! Mas esse realmente é o livro de alguém que teve o tempo de uma vida para escrever. As passagens são longas, as falas extensas, e o tempo pode ser desperdiçado. E esse foi um detalhe que me reconfortou ao longo do livro. Nada precisa ser cortado em troca da funcionalidade, se você não quiser. Nem toda a informação jogada no texto precisa ser útil ou recuperada mais tarde, com sua função revelada. Se escrever e parecer interessante, está bom. Além da paciência, a palavra religiosa está por todos os cantos do livro. Sério, quase virei cristã, só que não. A leitura de Jane Eyre foi para mim um lembrete da mudança de mentalidade ao longo tempo, que eu não sabia que estava e nem se estava precisando. E que a mudança do mundo não transforma um livro numa simples peça histórica. O mundo de Jane Eyre não é como o meu. Eu não sou Jane Eyre e não conheço nenhum Rochester. Eu não quero o que Jane Eyre quer e mesmo assim, a sua história de sobrevivência e amadurecimento emocional marca. Obrigada, Jane.